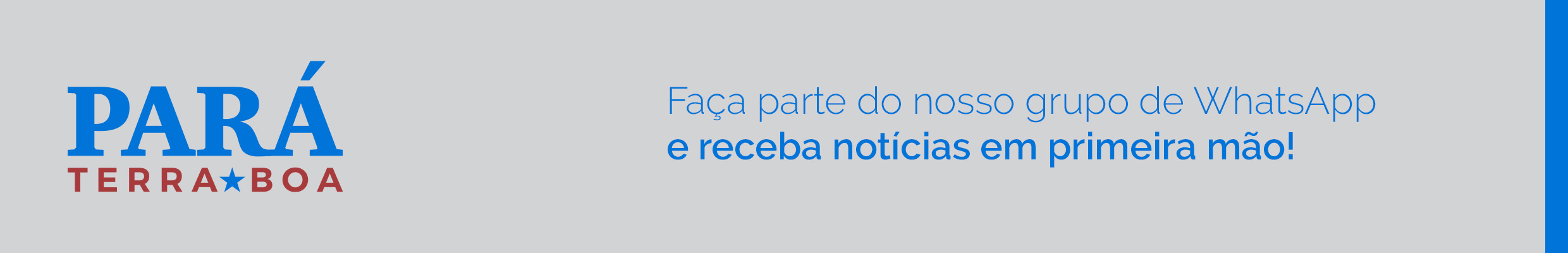Por Anna Beatriz Anjos/Agência Pública
Na primeira Conferência do Clima das Nações Unidas do terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o Brasil voltará a pautar sua atuação na ciência nos esforços para conter o aquecimento global, afirma, em entrevista exclusiva à Agência Pública, o embaixador André Corrêa do Lago, secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do Ministério das Relações Exteriores (MRE).
Na tentativa de estabelecer papel de liderança para a conferência que deverá ser realizada em Belém em 2025, o país levará à COP28 um chamado para que o mundo se una em torno da meta de limitar o aumento médio da temperatura do planeta a 1,5°C em relação aos níveis pré-Revolução Industrial.
Esse é um dos objetivos do Acordo de Paris, mas análise recente do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma) mostra que o estado atual da ação climática nos coloca muito longe disso, numa trajetória de 2,5ºC a 2,9ºC de aquecimento global, o que teria efeitos devastadores para a saúde humana, a economia e os ecossistemas.
A principal decisão a ser tomada pelos países na COP28, que ocorre de 30 de novembro a 12 de dezembro em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, se dará em relação ao primeiro balanço global do Acordo de Paris – o Global Stocktake, em inglês. O processo, que durou dois anos e será concluído agora, avalia o progresso coletivo na implementação das metas do acordo.
“Na nossa opinião, não se pode fazer um balanço do Acordo de Paris sem incorporar a última ciência”, afirma Corrêa do Lago, que comandará a equipe de negociadores brasileiros em Dubai. Ele atuou como negociador-chefe do Brasil para mudança do clima de 2011 a 2013, incluindo na Rio+20, que marcou o aniversário de duas décadas da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Rio-92. De 2019 a 2022, serviu como embaixador brasileiro na Índia.
Uma decisão sólida sobre o balanço global, que reconheça o quanto o mundo está atrasado no combate à crise climática e traga propostas para corrigir a rota, é considerada essencial para o sucesso da COP30– a confirmação da capital paraense como sede do evento deve acontecer em Dubai. Isso porque é na COP30 que ocorrerá uma etapa fundamental do Acordo de Paris: a apresentação, pelos países, da segunda rodada de metas voluntárias de redução de emissões de gases de efeito estufa, as Contribuições Nacionalmente Determinadas – ou NDCs, na sigla em inglês.

Para que o mundo se coloque no caminho de conter o aquecimento do planeta a 1,5°C, são necessárias novas NDCs mais ambiciosas, ou seja, que proponham cortes maiores e mais sustentados de emissões. Mas isso só será possível, segundo o embaixador, se os países ricos aumentarem o financiamento climático aos países em desenvolvimento.
“Todos temos consciência de que não vamos poder acelerar e ter NDCs mais ambiciosas em Belém se os recursos financeiros não vierem de maneira muito mais clara, transparente e efetiva”, destaca.
A atuação em relação ao financiamento é “ponto absolutamente central” da atuação do Brasil como “destravador de negociações difíceis”, aponta Corrêa do Lago. A diplomacia brasileira quer ser propositiva.
“O Brasil está procurando chegar a soluções. Não basta denunciar que esses recursos não estão vindo, o essencial é analisar por que”, diz.
O embaixador falou também sobre o instrumento global de conservação de florestas que o Brasil deve anunciar junto a cerca de 80 nações florestais na COP28. A ideia, de acordo com ele, é que o mecanismo funcione sob “uma nova lógica”, proposta de baixo para cima, ou seja, a partir dos países detentores de florestas. A iniciativa “traz uma visão muito mais ampla do que é uma floresta”, pois ela “é mais do que o carbono”, pontua.
“É a biodiversidade, são as populações locais, vários elementos extremamente importantes que têm que ser levados em consideração.”
Leia a seguir os principais trechos da entrevista:
O primeiro balanço global do Acordo de Paris, que será concluído na COP28, é considerado decisivo para o sucesso da COP30, que deve ser realizada em Belém. Quais medidas o Brasil deseja ver na decisão sobre o balanço?
Essencialmente, o importante é conseguir um equilíbrio entre confiança no processo multilateral, crítica ao que não aconteceu, enaltecimento ao que aconteceu e identificar o que a gente pode fazer para melhorar nesses dois próximos anos [2024 e 2025], para assegurar que as NDCs sejam ambiciosas em Belém.
Quais outros resultados da COP28 podem influenciar o processo até a COP30, nesse biênio que está sendo descrito como decisivo para o cumprimento do Acordo de Paris?
Acho que haverá dois temas onipresentes. Um deles é financiamento. Há uma clara reação dos países em desenvolvimento de que, se existe expectativa de mais ambição para as novas NDCs, primeiro é necessário saber que haverá recursos para isso. Muitos países em desenvolvimento, como o Brasil, estão tendo que atender emergências climáticas ao mesmo tempo em que precisam pensar em mitigação e em adaptação. Então, os recursos financeiros são a chave para desbloquear a ambição. Essa é a posição dos países em desenvolvimento, com a qual concordamos.
O Brasil vai contribuir muito para essa discussão durante sua presidência do G20 [que vai de dezembro de 2023 a novembro de 2024]. O G20 representa 80% do PIB mundial e das emissões mundiais. O que avançar no G20 tem um impacto muito grande, no sentido de que pelo menos você já conseguiu um certo consenso sobre certas iniciativas. A grande diferença é que o G20 produz uma declaração com grande impacto político, mas que não é, do ponto de vista legal, vinculante, como a decisão da COP.
O segundo tema vai ser a questão dos [combustíveis] fósseis. Sabemos que os fósseis têm um papel gigantesco na mudança do clima, sobretudo, o carvão, historicamente, e depois o petróleo e o gás. A abordagem desse tema sempre foi a coisa mais delicada nas negociações. É por isso que muitos países tentam desviar o assunto para outros muito menos relevantes do ponto de vista de emissões.
Por exemplo, o desmatamento para o Brasil é um tema central, porque era 50% das nossas emissões em janeiro. Mas, para o mundo, o desmatamento representa menos de 10% [das emissões]. É muito importante a gente acabar com o desmatamento, obviamente, mas não é isso que vai frear a mudança do clima.
O que vai frear realmente a mudança do clima é sermos extremamente ativos na questão dos fósseis. Só que há várias propostas diferentes. E, evidentemente, o Brasil vai estar muito atento a esse debate, porque nos tornamos um importante produtor de petróleo e precisamos ter uma posição que assegure que o Brasil consiga um equilíbrio entre ser favorecido por essas descobertas e, ao mesmo tempo, integrar isso ao debate do combate à mudança do clima.
Nesse contexto, o phase-out e phase down – termos em inglês utilizados nas negociações para propor, respectivamente, a eliminação e redução gradual do uso de combustíveis fósseis – devem ser temas muito debatidos na COP28.
Há propostas de phase down em várias versões: phase down das emissões de fósseis, phase down dos fósseis, phase down de unabated fossil fuels [redução apenas dos combustíveis fósseis cujas emissões não sejam abatidas por tecnologias de captura e armazenamento de carbono, por exemplo]. Aí tem o phase-out até tal data, phase-out em datas diferentes para países em desenvolvimento e desenvolvidos. Há muitas subcategorias dentro desse debate. Alguns países vão provavelmente propor que entre no Global Stocktake alguma frase nesse sentido. As pequenas ilhas, sempre, e a gente entende – elas vão ser as primeiras vítimas [dos efeitos das mudanças do clima]. Essa vai ser uma discussão interessante
Quais outros blocos estão encampando essa proposta?
Ainda é uma coisa que está sendo tratada de forma muito cuidadosa.
O Brasil defenderia a redução dos fósseis numa decisão de capa da COP28 – que reúne os principais encaminhamentos e mensagens políticas da reunião –, ou mesmo na decisão sobre o balanço global?
O phase-out sabemos que não vai passar por causa dos principais países produtores [de petróleo e gás – um deles é o país sede da COP28, Emirados Árabes Unidos]. Eles têm um argumento, que acho muito importante, de que as decisões não devem ser contra os fósseis, mas contra as emissões geradas pelos fósseis.
O argumento desses países é o de que, se você anunciar o phase-out de fósseis, vai desestimular o desenvolvimento de tecnologias de reduções de emissão [como o CCS, sigla em inglês para “captura e armazenamento de carbono”]. É um argumento com o qual, evidentemente, podemos concordar ou discordar. Mas, de certa forma, é verdade. Nosso combate é contra as emissões. Vamos ver como evolui, mas o Brasil está extremamente atento porque vai ter que tomar várias decisões com relação a isso, e serão decisões com um impacto de longo prazo. Por isso, temos que ter consciência de que é necessário um amplo debate no Brasil sobre esse tema. As opções, as direções [para a posição do Brasil sobre o assunto] ainda não estão muito claras. Agora, não há a menor dúvida de que temos que tratar dos fósseis de maneira muito séria se realmente queremos combater a mudança do clima no ritmo que a ciência diz ser necessário.
Não se pode adiantar nada dessa posição do Brasil sobre a questão de phase down e phase-out?
Não, a gente vai ver como os grupos reagem. Estamos trabalhando com o BASIC [bloco formado por Brasil, África do Sul, Índia e China], que tem países ainda extremamente dependentes do carvão; com o G77+China [grupo que reúne 134 países em desenvolvimento], que tem vários grandes produtores de petróleo. No ABU [bloco integrado por Argentina, Brasil e Uruguai], a Argentina tem grandes expectativas com relação ao gás. Esse debate ainda está numa fase intermediária.
Em entrevista coletiva recente, o senhor afirmou que seria possível o Brasil defender a meta do 1,5°C mesmo sem assumir claramente um compromisso com a eliminação dos fósseis, caso tecnologias como CCS sejam barateadas e ganhem escala. Fala-se dessas tecnologias há 20 anos, mas até hoje elas não se mostraram viáveis. Não é arriscado contar com alternativas que ainda não existem em grande escala se, segundo o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), para nos mantermos em 1,5ºC, as emissões globais precisam cair 43% até 2030 (em relação aos níveis de 2019)?
Temos que ser realistas no sentido de que essa agenda [do abandono do uso dos combustíveis fósseis] ainda enfrenta uma certa resistência. Na Europa, por exemplo, tem havido reação negativa com relação ao impacto nos preços de serviços por causa de políticas de combate à mudança do clima. Começou na França com os gilets jaunes [o movimento dos “coletes amarelos” que se iniciou em 2018, depois que o presidente Emmanuel Macron elevou impostos sobre combustíveis fósseis], há agora essa reação na Holanda, no Reino Unido e no Canadá. Os fósseis são ainda essenciais para que o mundo funcione. Há diferentes avaliações de que serão essenciais por X ou Y anos. Nesse contexto, insistir em tecnologias como essas é extremamente importante. Inclusive, os biocombustíveis e a bioenergia no Brasil passam a ser negativos em emissões se houver CCS. Ele vai ser desenvolvido para petróleo e gás, mas vai ter um impacto extraordinário sobre isso [essas outras áreas]. Também pode ter um impacto importante para o cimento.
Especialistas apontam que tecnologias como o CCS podem ser úteis como um complemento, para fechar a lacuna entre a capacidade máxima de corte de emissões dos países, que deve avançar a cada ano, e os níveis de redução necessários para se cumprir a meta de 1,5ºC. Mas o foco absoluto deve ser mitigar emissões, o que só pode ser alcançado com o abandono dos combustíveis fósseis.
Exatamente. Mas, por exemplo, se você tem emissões negativas com a produção de bioenergia e de etanol, você está criando espaço, está tendo uma redução efetiva, literalmente negativa.
O Brasil embarca para a COP28 com uma redução de 22% do desmatamento na Amazônia entre agosto de 2022 e julho de 2023, após sucessivas altas de 2017 a 2021. De que forma isso confere poder ao país para pressionar os outros?
Enormemente. A redução do desmatamento significa que o Brasil está abordando, de maneira extremamente efetiva, sua principal fonte de emissões. Isso é uma coisa que acontece raramente. Todo mundo, em geral, tem uma tendência a ir reduzindo emissões de fontes secundárias, mas não de seu problema central. E o Brasil abordou o seu problema central. Não é só uma redução significativa de emissões, mas uma redução de emissões da principal fonte. É algo de grande simbolismo e que vai ter muito impacto.
O Brasil leva também à COP28 a proposta de união global em torno da meta de 1,5°C, que foi apelidada de “missão 1,5”. Um dos pontos centrais dessa proposta é garantir não apenas NDCs mais ambiciosas em 2025, mas sua implementação. Como vocês esperam conseguir isso?
O que [o fato de estarmos em] uma emergência climática deve provocar nos países é acelerar suas ações de mitigação. Mas também que os países desenvolvidos acelerem e aumentem os recursos financeiros para que isso possa acontecer. Se os países desenvolvidos estão de acordo com a emergência; com o fato de que, para o IPCC, 2030 é uma data importante como referência; e que ultrapassar 1,5°C vai ter consequências terríveis não só para o clima, mas para a economia mundial e para as pessoas – a grande questão da mudança do clima é que impõe um problema a mais para os mais vulneráveis –, pode-se criar uma dinâmica de aceleração.
Mas, para que ela seja encarada de maneira realista pelos países em desenvolvimento, são necessários recursos. Isso está incluído na proposta. É uma proposta que nos traz de volta para a ciência, pois a Convenção do Clima [da ONU] começou com a ciência e progrediu com o avanço da ciência. E temos o fato de que o sexto relatório do IPCC [o ciclo mais recente de análises, concluído em 2022] é posterior à assinatura do Acordo de Paris [em 2015]. Na nossa opinião, não se pode fazer um balanço do Acordo de Paris sem incorporar a última ciência.
Em ocasiões anteriores, não houve tanto empenho do Brasil na defesa da meta de 1,5°C, já que o Acordo de Paris fala em manter o aquecimento global médio a um patamar “bem abaixo de 2ºC”, com esforços para se atingir o 1,5°C. O que mudou para que essa posição tenha se tornado tão central para o país?
Temos que reconhecer que a meta de 1,5°C se deve em grande parte ao esforço das pequenas ilhas. No momento da negociação [do Acordo de Paris], o IPCC ainda não havia sido claro com relação a essa questão [de que meio grau a mais na temperatura terá consequências danosas] – por isso, o acordo saiu [com a meta de ficar] nitidamente abaixo de 2°C e, se possível, 1,5°C. Esse “se possível 1,5°C” se deveu a um grande esforço das pequenas ilhas, que estavam vivendo a emergência climática de uma maneira muito mais aguda do que nós naquele momento. Hoje, o Brasil é totalmente consciente de que a sua população mais vulnerável está na linha de frente dos que serão atingidos pela evolução da mudança do clima. Com a certificação do IPCC, o 1,5°C se tornou uma referência que todos temos que adotar.
Essa mudança de posição se dá também pela necessidade do Brasil assumir um papel de liderança para a COP30?
Primeiro, acontece porque esse governo acredita firmemente na ciência. Temos que lembrar que a liderança não vem por decisão de um país, é a opinião dos demais países. Quem pode atribuir liderança ao Brasil são os outros. Fizemos várias consultas e sentimos que há, entre os países em desenvolvimento, no grupo G77+China, uma grande maioria muito consciente disso. Todos temos consciência de que não vamos poder acelerar e ter NDCs mais ambiciosas em Belém se os recursos financeiros não vierem de maneira muito mais clara, transparente e efetiva.
O financiamento climático está muito aquém do que o necessário – segundo a OCDE, só em 2022 os países desenvolvidos provavelmente terão cumprido a meta de transferir 100 bilhões de dólares anuais aos países em desenvolvimento, acordada na COP de 2009 e que deveria estar vigente desde 2020. Como o Brasil pretende destravar esse impasse no âmbito da “missão 1,5” e enquanto liderança que deseja ser?
Quando se analisa tecnicamente a questão dos recursos financeiros – e temos feito isso de maneira muito próxima com os ministérios da Fazenda e Meio Ambiente e com o próprio Banco Central –, a conclusão é de que há várias questões burocráticas, institucionais, até de hábitos, que interferem no acesso. Se no caso do Brasil já há dificuldade, imagine em países em desenvolvimento com crise de dívida, de balanço de pagamento. O Brasil está procurando chegar a soluções. Não basta denunciar que esses recursos não estão vindo, o essencial é analisar por que. Esse vai ser o papel da delegação brasileira.
A intenção do Brasil de se colocar como um “destravador de negociações difíceis”, como o senhor descreveu em entrevista recente, passa essencialmente pela discussão de financiamento?
Exatamente, isso é um ponto absolutamente central. Existe uma crise de confiança aguda [nas negociações climáticas, dos países em desenvolvimento em relação aos desenvolvidos]. Os países em desenvolvimento acabam unidos para se defender da maior ambição por falta de recurso financeiro, enquanto os países ricos só fazem repetir ambição. O que não pode acontecer também é os recursos virem, e os países em desenvolvimento não terem ambição. Mas não é a crise que vivemos no momento. O que acontece agora é uma reticência de maior ambição [por parte dos países em desenvolvimento] pela falta de confiança de que haverá recurso.
O senhor poderia detalhar um pouco mais, por favor, a proposta que o Brasil levará à COP28 de criação de um instrumento global de conservação de florestas tropicais?
Essa proposta é fora da Convenção, uma vez que vai se concentrar em conservação, e a medição não vai ser por carbono, mas por hectare. O Brasil está na origem de propostas muito diferentes, mas todas nesse esforço da busca de recursos financeiros.
O Brasil estava na origem do MDL, o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo [criado no âmbito do Protocolo de Quioto]. Outra proposta brasileira foi o REDD+, cujo melhor exemplo é o Fundo Amazônia [de pagamento por resultado de desmatamento evitado]. Agora, o Brasil apresenta uma terceira dimensão. Testemunhamos um recuo no interesse de direcionar recursos para florestas, tirando o caso do Brasil, que conseguiu aumentar o Fundo Amazônia.
Mas o Brasil se deu conta de que há circunstâncias muito diferentes para cada país. Temos muita floresta, mas também já desmatamos muito. Muitos países africanos, por exemplo, desmataram pouquíssimo e não se sentem apoiados pelos mecanismos existentes, desenvolvidos para países em crise de desmatamento. Em Belém [na Cúpula da Amazônia, em agosto], o presidente Lula sentiu que é necessário unir os países florestais em torno de uma iniciativa que seja bottom-up [de baixo para cima], ou seja, têm que partir dos países florestais as propostas. E, ultimamente, as propostas que têm surgido fora da Convenção são de países desenvolvidos, voltadas para países florestais que queiram se unir.
Por instrução do presidente, estamos buscando criar uma nova lógica. Primeiro, identificar os países florestais. Nos demos conta de que é uma coisa muito mais ampla do que as três bacias [amazônica, na América do Sul; Congo, na África; e Mekong, na Ásia]. Já identificamos 80 países e procuramos criar esse movimento dos países florestais. Acredito que a COP28 vai ser uma etapa muito importante para essa evolução.
Esse mecanismo deve ser anunciado na COP28?
Sim. Mas, como disse a ministra Marina Silva, o Brasil não está chegando com o pacote pronto, ao contrário da maioria dos países desenvolvidos. Estamos com uma proposta conceitual, que está em construção, e que vai estar aberta a sugestões dos países florestais.
Brasil levará à COP28 proposta de criação de um novo instrumento global de conservação de florestas
Seria uma espécie de Fundo Amazônia turbinado?
Tem características parecidas com as do Fundo Amazônia no sentido de que é também um mecanismo para a conservação de floresta em pé. Mas traz uma visão muito mais ampla do que é uma floresta. Nos projetos de REDD+, há essencialmente a questão de carbono. Só que a floresta é mais do que o carbono. É a biodiversidade, são as populações locais, vários elementos extremamente importantes que têm que ser levados em consideração. E, sobretudo, essa variedade de circunstâncias, inclusive dentro do próprio Brasil. A circunstância do Pará é diferente da do Amapá.
Qual o estágio das negociações para a operacionalização do bloco de países com florestas tropicais, conforme definido na Declaração de Belém, que saiu da Cúpula da Amazônia? Deve haver atuação conjunta já na COP28?
É um bloco complexo, com diferenças muito grandes. O Brasil fez o dever de casa com seus vizinhos na Cúpula da Amazônia. Acreditamos que é muito importante que o Caribe possa abordar esse tema. Que as bacias do Congo, do Mekong, e outras áreas de florestas tropicais na África possam se reunir. O bloco ainda está em formação.
O Acordo de Paris prevê que a segunda rodada de metas voluntárias seja proposta pelos países até 2025. Para liderar pelo exemplo, o Brasil deve apresentar sua nova NDC ainda em 2024?
Seria ótimo a gente fazer as coisas em prazos adiantados. Mas é preciso ver a dinâmica dessa discussão, que já começou. A nova NDC vai ter um impacto muito grande sobre a economia brasileira, e isso vai ser objeto de muito debate.
Há a expectativa de que o acordo entre Mercosul e União Europeia seja anunciado na Cúpula do Mercosul, que ocorre em dezembro nas vésperas da posse do recém-eleito presidente Javier Milei como presidente da Argentina. Como isso pode influenciar a conclusão desse acordo, após anos de negociação?
É muito importante ver qual vai ser a reação da Argentina. O que está muito claro é que há muito mais desejo de concluir esse acordo, tanto do lado da Europa quanto do Mercosul, do que daqueles que não são favoráveis. Os dois lados estão vendo muito claramente a vantagem de conseguir o acordo. Ele está longe de ser perfeito. Mas são tantos anos de negociação que seria, de vários pontos de vista, extremamente importante [sua conclusão]. Ele também tem um impacto geopolítico muito importante, já que ocorre entre a União Europeia e países que, inclusive, estão no BRICS, porque a Argentina também foi convidada a se juntar aos BRICS. É de um simbolismo muito grande um acordo tão amplo entre os países do G7 e dos BRICS.